EN HONOR DE HERMES
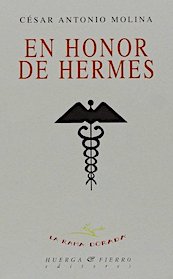 A SEDE DO NÁUFRAGO
A SEDE DO NÁUFRAGO
José Agostinho Baptista recupera o léxico e a simbologia da Madeira através de um homem que enfrenta a morte pela segunda vez e lê salmos do aqui e do além.
José Agostinho Baptista (1948) nasceu no Funchal (Madeira, Portugal). Colaborador dos mais importantes jornais lisboetas, desenvolveu um grande trabalho traduzindo autores como Whitman, Yeats, Bowles ou, entre os espanhóis, Enrique Vila-Matas. A sua obra poética encontra-se reunida em BIOGRAFIA (Assírio & Alvim, 2000).
Um homem está quase a morrer. É um suicida, um náufrago ou um simples corpo esgotado pelo caos da agonia. Um homem está quase a morrer pela segunda vez depois de ter ressuscitado e regressado aos lugares da sua memória. O espaço ficou detido no tempo da sua partida, mas também não estão presentes aqueles que o preenchiam. Regressa vencido do além, do futuro ao passado onde “já nada floresce como outrora, clamorosamente, / nos pátios de uma ilha”. As praias, os faróis, os promontórios, os barcos “ancorados no / vazio da nossa alma”, as plantas, os recifes estão retidos num instante dissecado. Na casa familiar há retratos do passado e do futuro, mas onde estão os mortos? Entre a crença e a incredulidade, entre a imprecação e a increpação, entre o teísmo e o ateísmo, o abandonado procura resposta para a sua perda: “Diz-me / diz-me que ouves, / que aí, no silêncio dos astros / sem nome, / as minhas palavras chegam como um / cântico...” Confrontado com o Deus judaico-cristão, recorre à intermediação da Senhora, a protectora dos marinheiros, a quem também Eliot dedicou um poema magistral, “... guardai no vosso alto regaço de luminosas rosas / aquele / cuja fé e cujo alento a vida destroçou”. Mas nenhum crucifixo redime a desolação. O crucificado não é outro senão o próprio, cravado na madeira pelo martelo dos enigmas, entregue à intempérie da dor, da melancolia, da sede de conhecimento, sendo uma “martirizada voz que já não canta” no eterno retorno. O poeta recupera o léxico e a riquíssima simbologia proveniente da sua origem insular nestes versos que são salmos do aqui e do além, da vida e da ressurreição na morte, “esta casa vazia onde te deitas para sempre, / já tão longe das hortênsias”. Corpo-casa-alma, “quando fecharam as cortinas, / quando as tuas pálpebras desceram / para os subterrâneos de Deus, / os cães ladraram à casa demolida”.
No ano de 1892, António Nobre, o mais destacado representante do neo-romantismo finissecular luso, publicava em vida um único livro, Só. Em ´Memória', o poema que abria a segunda edição ampliada da obra, vangloriava-se de que o seu livro era “o livro mais triste de Portugal”. Desde então, a corrida para afundar-se ainda mais nesta amargura, neste pessimismo existencial, neste sentimento trágico da vida, chegou inclusivamente a Pessoa. Bernardo Soares, no Livro do Desassossego, afirma que o seu livro ultrapassou em desespero o de Nobre. Helena Barbas, referindo-se a Agora e na hora... comenta: “Pode ser mais triste do que nunca, mas é um dos mais belos livros tristes que há em Portugal”. Triste e belo como a sirene de um barco perdido entre a névoa. Magnífica a versão de Antón Castro.
CÉSAR ANTONIO MOLINA *
escritor, tradutor, Director do Circulo de Bellas Artes de Madrid (1996-2004), Ministro da Cultura de Espanha (2007-2009), etc.
EL PAÍS, 18 de Agosto de 2001